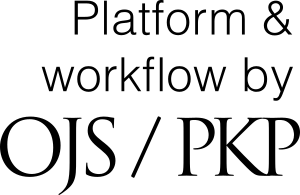Câncer de pele: uma análise sobre a utilização de diferentes recursos pedagógicos para a alfabetização científica sobre o tema
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i13.34509Palavras-chave:
Câncer de pele, Recursos pedagógicos, Alfabetização Científica, Ensino fundamental.Resumo
O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado de células que compõem a pele, acometendo milhares de pessoas a cada ano no Brasil. Estudos demonstram que as possibilidades de desenvolvimento do câncer de pele são reduzidas se os cuidados com a exposição solar forem adotados desde a infância. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar as possíveis contribuições do uso de diferentes recursos pedagógicos relacionados ao ensino do tema câncer de pele entre alunos do ensino fundamental de três escolas públicas da região central do estado do RS. Participaram da pesquisa 139 estudantes com idades entre 8 e 13 anos. Os recursos pedagógicos utilizados para a realização das oficinas foram uma cartilha, um folder e um flyer, com ilustrações e atividades a respeito do tema câncer de pele e os meios de prevenção. Os instrumentos de coleta de dados foram o diário de campo e a entrevista semiestruturada. O tratamento dos dados foi baseado em análise de conteúdo e estatística descritiva. Observou-se que os recursos pedagógicos utilizados despertaram o interesse dos estudantes em aprender sobre o tema proposto e foram eficientes para iniciar o processo de alfabetização científica relacionado às funções da pele, desenvolvimento do câncer de pele e fatores que influenciam seu surgimento. Acredita-se que esses recursos contemplaram o primeiro eixo estruturante da alfabetização científica, que se refere à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos fundamentais que conduzem o aluno a compreender conceitos científicos de forma a significá-los em suas vivências cotidianas.
Referências
Antunes, A. M., & Sabóia-Morais, S. M. T. (2010). O jogo educação e saúde: uma proposta de mediação pedagógica no ensino de ciências. Experiências em Ensino de Ciências, 5 (3), 55-70.
Assis, S. S., Pimenta, D. N., & Schall, V. T. (2013). Dengue nos livros didáticos de ciências e biologia indicados pelo programa nacional do livro didático. Ciências & Educação, 19 (3), 633-656.
Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo: Edições 70.
Berwick, M., et al. (1996). Screening for cutaneous melanoma by skin self-examination. Journal of the National Cancer Institute, 88, 17-23.
Brasil. (2018). Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC.
Brasil. (1998). Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais - Temas Transversais. Ensino de 5ª a 8ª séries. Brasília: Secretaria de Ensino Fundamental.
Brito, L. O., & Fireman, E. C. (2016). Ensino de ciências por investigação: uma estratégia pedagógica para promoção da alfabetização científica nos primeiros anos do ensino fundamental. Revista Ensaio, 18 (1), 123-146.
Carøe, T. K., et al. (2013). Occupational skin cancer may be underreported. Danish Medical Journal, 60 (5), A4624.
Carvalho, A. M. P., et al. (1998). Ciências no Ensino Fundamental: o conhecimento físico. São Paulo: Scipione. (Pensamento e Ação no Magistério).
Ceballos, A. G. C., et al. (2014). Exposição Solar Ocupacional e Câncer de Pele Não Melanoma: Estudo de Revisão Integrativa. Revista Brasileira de Cancerologia, 60 (3), 251-258.
Corrêa, M. P., & Pires, L. C. M. (2013). Doses of erythemal ultravioleta radiationobserved in Brazil. International Journal of Dermatology, 52 (8), 966-973.
Costa, F. B., & Weber, M. B. (2004). Avaliação dos hábitos de exposição ao sol e de fotoproteção dos universitários da Região Metropolitana de Porto Alegre, RS. Anais Brasileiros de Dermatologia, 79, (2), 149-155.
Coutinho, C. (2017). Por uma “ciência com consciência”: interfaces da Educação ambiental e do ensino de ciências nos contextos docente, discente e do material didático. Tese (Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde), Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal de Santa Maria.
Criado, P., Melo, J. N., & Oliveira, Z. N. P. (2012). Fotoproteção tópica na infância e na adolescência. Jornal de Pediatria, 88 (3), 203- 210.
Demo, P. (2005). Educar pela pesquisa. (7ª. ed.): Autores Associados.
Didier, F. B., et al. (2014). Hábitos de exposição ao sol e uso de fotoproteção entre estudantes universitários de Teresina, Piauí. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 23 (3), 487-496.
Flor, J., Davolos, M. R., & Correa, M. A. (2007). Protetores solares. Química Nova, 30, (1), 153-158.
Gilaberte, Y., et al. (2008). Evaluation of a health promotion intervention for skin câncer prevention in Spain: the Sol Sano program. Health Promotion International, 23, p. 209-219.
Gontijo, G. T., Pugliesi, M. C. C., & Araújo, F. M. (2009). Fotoproteção. Surgical and Cosmetic Dermatology, 1, (4), 186-192.
Greinert, R., et al. (2015). European Code against Cancer 4th edition: Ultraviolet radiation and cancer. Cancer Epidemiology, 39, (1), 75-83.
Haas, E. R. M., Nijsten, T., & Vries, E. (2010). Population education in preventing skin cancer: from childhood to adulthood. Journal of Drugs in Dermatology, 9, (2), 112-116.
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva/ Ministério da Saúde – INCA (2020). Tipos de Câncer. INCA. https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer
Knechtel, C. M., & Brancalhão, R. M. C. (2009). Estratégias lúdicas no ensino de ciências. Secretaria de Estado da Educação-Superintendência da Educação, Diretoria de Políticas e Programas Educacionais - Programa de Desenvolvimento Educacional, p. 31.
Lorenzetti, L. (2005). O ensino de ciências naturais nas séries iniciais. Revista Virtual-Contestado e Educação, Caçador, v. 2.
Lorenzetti, L., & Delizoicov, D. (2001). Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, 3 (1), 37-50.
Magalhães, D. F., et al. (2009). Dissemination of information on visceral leishmaniasis from school children to their families: a sustainable model for controlling the diasease. Caderno de Saúde Pública, 25 (7), 1642‐1646.
Marega, P., Veiga, M. L., & Chitolina, M. R. (2019). Contribuições de recursos pedagógicos sobre câncer de pele para alfabetização científica no ensino fundamental. Actio: Docência em Ciências, 4 (30, 248-269.
Massara, C. L., Scholte, R. G. C., & Enk, M. J. A (2008). Utilização do Lúdico na Transmissão de Informação e Conhecimento Sobre Esquistossomose. In: XI Simpósio Internacional sobre Esquistossomose, Salvador/BA, 2008. Anais... Salvador/BA: Universidade Federal da Bahia.
Massetto, M. T. (1997). Didática: A aula como centro. São Paulo: FTD.
Minayo, M. C. S. (2004). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. (8ª ed.): Hucitec.
Mohr, A. (2002). A natureza da educação em saúde no ensino fundamental e os professores de ciências., 410 p. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Nahar, V. K. (2013). Skin cancer prevention among school children: a brief review. Central European Journal of Public Health, 21 (4), 227-232.
Nicola, J. A., & Paniz, C. M. (2016). A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de biologia. Informação, Inovação e Formação, Revista do Núcleo de Eduacação a Distância da Unesp, 2 (1), 355-381.
Pessoa, C. V., & Miot, H. (2012). A. Prevalência de lesões cutâneas actínicas em pacientes com carcinoma basocelular do segmento cefálico: um estudo caso-controle. Revista da Associação Médica Brasileira, 58, (2), 188-96.
Pucu, S. C. C., & Franco, Z. G. E. (2022). Possibilidades de Educação em Ciências na Educação Infantil. Research, Society and Development, 11 (9), e23811931729.
Salvio, A. G., et al. (2011). Experiência de um ano de modelo de programa de prevenção contínua do melanoma na cidade de Jaú-SP, Brasil. Anais Brasileiros de Dermatologia, 86 (4), 669-74.
Santos, A. V., Fontana, R. T. F., & Brum, Z. P. (2013). Health education as a strategy for health y sexuality. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, 5 (4), 529-536.
Sasseron, L. H., & Carvalho, A. M. P. (2011). Alfabetização científica: uma revisão bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências, 16 (1), 59-77.
Sasseron, L. H., & Carvalho, A. M. P. (2008). Almejando a alfabetização científica no ensino fundamental: a proposição e a procura de indicadores do processo. Investigações em Ensino de Ciências, 13, 333-352.
Schalka, S. (2010). Fotoproteção na infância. In: I Painel Latino-Americano: Cuidados com a pele infantil. São Paulo.
Silva, P. F. K., & Schwantes, L. (2016). Radiações Solares: a importância da temática interdisciplinar no currículo escolar. In: XV Seminário Internacional de Educação. Educação e Interdisciplinaridade: Percursos teóricos e metodológicos. 2016. Universidade Feevale, Novo Hamburgo/RS.
Sociedade Brasileira de Dermatologia (2019). Câncer da pele. https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/doencas-e-problemas/cancer-da-pele/64/
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) (2018). Como prevenir câncer de pele. Rio de Janeiro. http://www.sbd.org.br/informacoes/sobre-o-cancer-da-pele/como-prevenir-ocancer-da-pele/
Surdu, S., et al. (2013). Occupational exposure to ultraviolet radiation and risk of non-melanoma skin cancer in a multinational european study. Plos One, 8 (5), 1-9.
Uchôa, C. M. A., et al. (2004). Educação em saúde: ensinando sobre a leishmaniose tegumentar americana. Cadernos de Saúde Pública, 20 (4), 935‐941.
Viero, J., & Rocha, J. B. T. (2014). Estratégias de aprendizagem por meio de atividades lúdicas e experimentais: explorando o gibi “Pulmão e sua turma”. Contexto & Educação, 29 (93), 157-102.
Wilsek, M. A. G., & Tosin, J. A. P. (2009). Ensinar e aprender ciências no ensino fundamental com atividades investigativas através da resolução de problemas. http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1686-8.pdf
Yin, R. K. (2005). Estudo de caso: planejamento e métodos. (3ª ed.,): Bookman.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 Patricia Marega; Marcelo Leite da Veiga; Josiane Faganello; Maria Izabel de Ugalde Marques da Rocha; Maria Rosa Chitolina Schetinger

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.