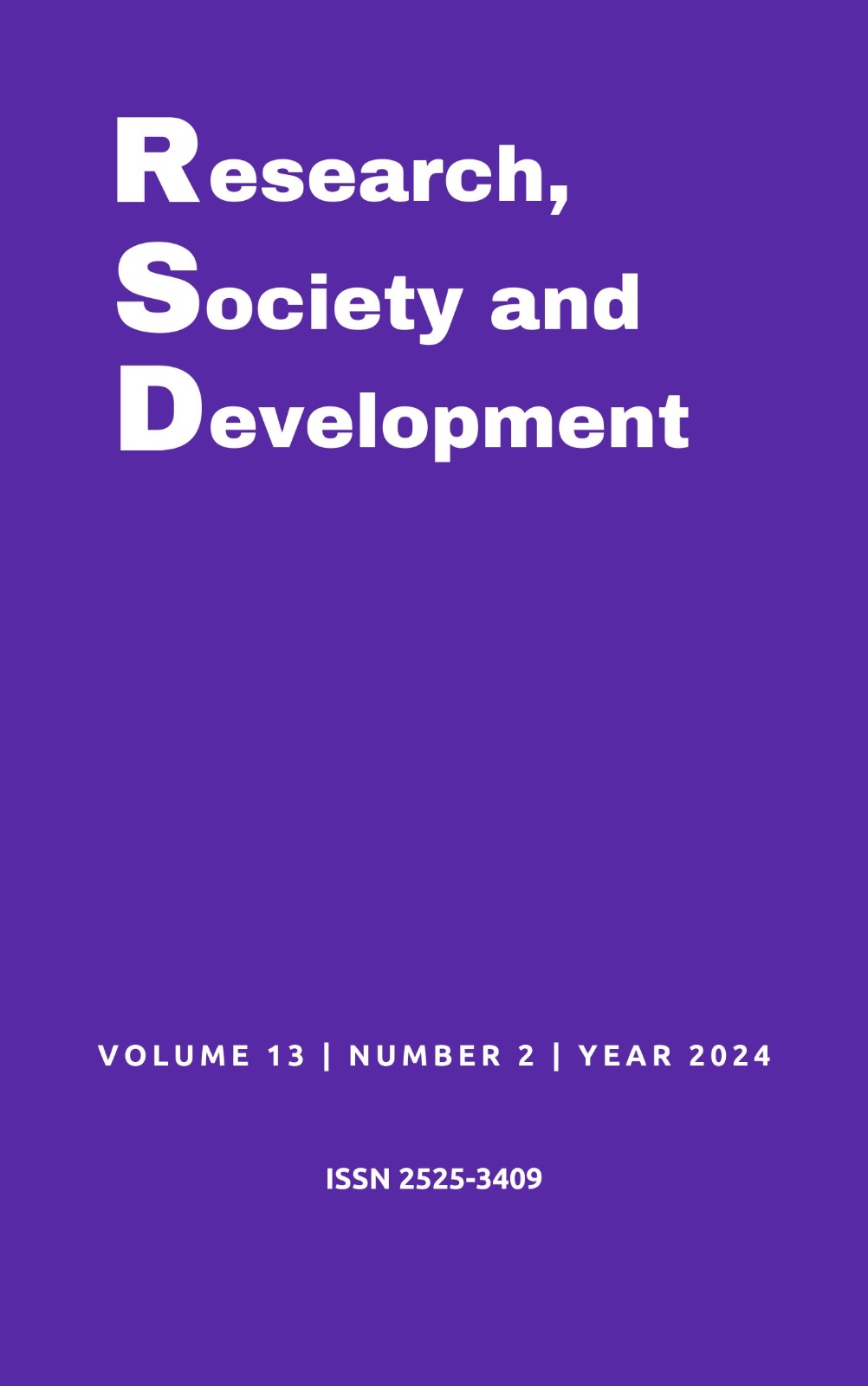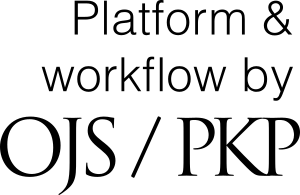Amigo imaginário: Vivências infantis à subjetividade dos adultos
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v13i2.45070Palavras-chave:
Infância, Amigo imaginário, Professores, Vivências, Desenvolvimento do eu.Resumo
O brincar da criança, alinhado à fantasia, é um recurso utilizado como forma de internalização e expressão do mundo externo. Dentre as formas de imaginação, se encontra o amigo imaginário, o qual simboliza companhia, diversão, amparo, segurança e afetividade. Considerando que se encontraram poucos estudos brasileiros existentes sobre tema, o trabalho objetiva extrair as contribuições da companhia imaginária sobre a construção da subjetividade do adulto e colaborar para o avanço e expansão dos estudos nacionais. A pesquisa foi realizada com quatro professoras do ensino fundamental de uma Escola Estadual da cidade de Patos de Minas-MG, que se recordavam dessa experiência. Para isso, utilizou-se de entrevista estruturada oral, sem gravação, contendo 20 questões; e como forma complementar e de livre expressão, um diário de bordo. Os resultados colhidos sobre o amigo imaginário confirmam o papel de mediador que as crianças encontram para lidar e externar seus conteúdos psicoemocionais, representar vivências infantis e suportar episódios traumáticos que ficam por toda a vida. Portanto, conclui-se que a subjetividade dos adultos está intimamente cambiada pelas experiências infantis e sua capacidade criativa, sendo que as vivências das etapas do desenvolvimento interdependem umas das outras, quando são múltiplos os benefícios do amigo imaginário para a fase adulta, como: doce e travessa companhia para o brincar, partilha de segredos infantis, realização de desejos e sonhos.
Referências
Aberastury, A. (1992). A criança e seus jogos. Artmed.
Benjamin, W. (2002). Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação (Coleção espírito Crítico). Editora 34.
Bouldin, P., & Pratt, C. (1999). Characteristics of preschool and school-age children with imaginary companions. The Journal of Genetic Psychology, 160 (4), 397-410.
Bouldin, P. & Pratt, C. (2002). A systemtic assessment of the specific fears, Anxiet level, and temperamento of children with imaginary companions. Australian Journal of Psychology, 54 (2), 79-85.
Bowlby, J. (2002). Apego e perda (Vol. 1) (A. Cabral, trad.). Martins Fontes.
Corso, D. L. & Corso, M. (2006). Fadas no divã: Psicanálise nas histórias infantis. Artmed.
Cuevas, M. (2018). Confissões de um amigo imaginário (L. D.V. Geisler, trad.). Galera Record.
Fernandes, M. C. B. (2012) “O refúgio da escrita” processo terapêutico da escrita em pessoa. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA), Lisboa, Portugal.
Ferreira, M. R. (2008). "...Porque quando sai de casa fica invisível e eu não sei onde ele está!". Imergindo dos meandros das culturas da infância... Para a desocultação dos amigos imaginários das crianças... Interações, (10), 14-38.
Fischborn, A. G. & Lopez, V. B. (2013). O papel do fenômeno amigo imaginário no desenvolvimento infantil: uma perspectiva de psicólogos de orientação psicanalítica. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Graduação em Psicologia, Universidade de Psicologia, Porto Alegre, RS.
Freud, S. (1996). Luto e Melancolia. In: Freud, S. A história do Movimento Psicanalítico, artigos sobre a Metapsicologia e outros trabalhos (1914- 1916) (Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud) (Vol. XIV). Imago, 245-263.
Freud, S. (2006). Escritores criativos e devaneio. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (Vol. IX). Rio de Janeiro: Imago, 135-143.
Gutfreind. C. (2014). A infância através do espelho: a criança no adulto, a literatura na psicanálise. Artmed.
Klein, M. (1997). A psicanálise de crianças. Imago.
Kubler-Ross, E. (1996). Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiros, religiosos, e aos seus próprios parentes. São Paulo: Martins Fontes.
Kishimoto, T. M. (2017). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Cortez.
Laplanche, J. (2001). Vocabulário da psicanálise / Laplanche e Pontalis (4a ed.) (P. Tamen, trad.). Martins Fontes.
Melo, D. G. S., Silva, H. F. D., Moura, I. T. T. D., & Barbosa, S. D. S. (2018). O posicionamento dos pais sob a ótica dos amigos imaginários. Psicologia.pt.
Moura, F. (2006). A utilização do Diário de Bordo na formação de professores. In Proceedings of the 6th Psicanálise, Educação e Transmissão. http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000032006000100034&script=sci_arttext
Papalia, D. Olds, S. & Feldman, R. (2006). Desenvolvimento humano. Artmed.
Piaget, J. (1971). A formação do símbolo da criança, imitação jogo, sonho, imagem e representação de jogo. Zonhar.
Rodrigues, K. A., Correia, D. B., Verçosa, C. J., Pereira, G. G., Silva, J. R. de L., Bento, E. B., Oliveira, J. P. C. de, Pereira, C. T. de A., Vasconcelos, J. M. P. B. L. de, Oliveira, A. P. P. de, Cruz, A. B., Barros, J. E. L. de, & Ribeiro, D. A. (2022). A Reutilização de Materiais Recicláveis na Construção de Ecobrinquedos Educativos voltados para a Primeira Infância. Research, Society and Development, 11 (8), e11811829469. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.29469
Santos, S. M. P. & Cruz, D. R. M. (1997). O lúdico na formação do educador. In O lúdico na formação do educador (Org.). Vozes.
Sousa, V. A. C., Oliveira, V. P. de, Ferreira, L. F., & Bruzi, A. T. (2022). A brincadeira de faz de conta na educação infantil: a perspectiva docente em questão. Research, Society and Development, 11 (17), e161111738991. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i17.38991
Souza, A. M. S. (2011). A temática da infância sob a visão de Walter Benjamin. Revista Memento, 2 (1) 63-73.
Taylor, M., & Mottwiler, C. M. (2008). Imaginary companions: pretending they are real but knowing they are not. American Journal of Play, 1(1) 47-54.
Torezan, Z. C. F., & Aguiar F. (2011). O Sujeito da Psicanálise: particularidades na contemporaneidade. Revista Mal-estar e subjetividade, 11(2), 525-554.
Velludo, N. B. (2014). A criação de amigos imaginários: um estudo com crianças brasileiras. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós de Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP.
Velludo, N. B., & Souza, D. H. (2015). A criação de amigos imaginários: uma revisão de literatura. Psico, 46(1), 25-37.
Velludo, N. B., & Souza, D. H. (2016) “Ele me deixava especial”: amigos imaginários, suas funções e atitudes parentais. Psicologia em Estudo, 21(1), 115-126.
Vigotsky, L. S. (2009). Imaginação e criação na infância. Ática.
Vigotsky, L. S. (2007). A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores (J. Cipolla Neto, L. S. M. Barreto, & S. C. Afeche, trad.). Martins Fontes.
Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade (J. O. A. Abreu, & V. Nobre, trad.). Imago.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Karla Cristina da Silva; Gema Galgani da Fonseca

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.