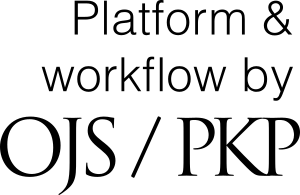Mantenimiento Preventivo en Establecimientos de Salud
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37572Palabras clave:
Mantenimiento preventivo, Equipo, Establecimientos de salud, Ingeniero clínico.Resumen
Es sumamente necesario abordar el mantenimiento preventivo en los establecimientos de salud. El mantenimiento de los equipos hospitalarios tiene como objetivo, principalmente, mitigar los riesgos para la salud humana, tanto de los pacientes como de los profesionales involucrados. El artículo tiene como objetivo resaltar la efectividad del mantenimiento preventivo como herramienta de seguridad en ambientes hospitalarios. Es un estudio basado en la investigación bibliográfica, abarcando consultas a revistas, repositorios institucionales y bases de datos de interés para el estudio. Se justifica por el hecho de que el mantenimiento preventivo en EAS favorece la economía, una vez aplicado de manera coherente permite la reducción de costos, de esta manera, las inversiones ahora destinadas al mantenimiento, pueden ser aplicadas en otras áreas, permitiendo el aumento de servicios disponibles para los usuarios. Cuando se realiza correctamente, influye directamente en los indicadores de calidad y, en consecuencia, obtiene el privilegio de la credibilidad para los usuarios que utilizan los establecimientos de salud. Se debe analizar que la falta de mantenimiento preventivo en los establecimientos de salud puede generar numerosos perjuicios y/o gastos, como factores relacionados con el uso insuficiente del equipamiento hospitalario y el aumento del mantenimiento correctivo. Es fundamental que las EAS cuenten en su plantilla con un Ingeniero Clínico responsable de la gestión del mantenimiento, ya que él gestionará todo el proceso tecnológico en el área médica, visando la mejora y calidad de los equipos.
Referencias
Amorim, A. S., Pinto Junior, V. L., Shimizu, H. E. (2015). O desafio da gestão de equipamentos médico-hospitalares no Sistema Único de Saúde. Saúde Debate | Rio de Janeiro, v. 39, n. 105, p.350-362.
ABNT. (2013). NBR 15575: Edificações Habitacionais – Desempenho. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
ABNT. (1994). NBR 5462-1994: Confiabilidade e mantenabilidade. Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Calil, S. J. & Texeira, M. S. (1998). Gerenciamento de Manutenção de Equipamentos Hospitalares. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
Costa, M. A. (2013). Gestão estratégica da manutenção: uma oportunidade para melhorar o resultado operacional. Universidade Federal De Juiz De Fora: Juiz de Fora. https://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2012_3_Mariana.pdf.
EBSERH. (2020). Engenharia Clínica. Hospitais Universitários Federais - Ministério da http://www2.ebserh.gov.br/web/hu-ufjf/engenharia-clinica#:~:text=A%20Engenharia.
Instituto de Engenharia. (2017). Tudo o que você precisa saber sobre Engenharia Clínica. https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2017/07/25/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-engenharia-clinica/
Gerônimo, M. S., Leite, B. C. C. & Oliveira, R. D. (2017). Gestão da manutenção em equipamentos hospitalares: um estudo de caso. Exacta – EP, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 167-183.
Guimarães, J. M. C. (2020). Manutenção nos edifícios hospitalares: o que é preciso fazer? Portal Hospitais Brasil. https://portalhospitaisbrasil.com.br/artigo-manutencao-nos-edificios-hospitalares-o-que-e-preciso-fazer/.
Lima, F. A. & Castilho, J. C. N. (2006). Aspectos da manutenção dos equipamentos Científicos da Universidade de Brasília, Dissertação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Brasília, DF.
Ministério da Saúde. (2016). Mapeamento e diagnóstico da gestão de equipamentos médico-assistenciais nas regiões de atenção à saúde do projeto Qualisus-rede. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde.
Monchy, F. (1987). A função da manutenção. São Paulo: Durban.
Moubray, J. (2020). Manutenção centrada em confiabilidade. Reliability-centred Maintenance (RCM). Grã Bretanha.
Netto, W. A. C. (2008). A importância e a aplicabilidade da manutenção produtiva total (tpm) nas indústrias. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.
Nunes, E. N. & Valadares, A. (2008). Gestão da manutenção com estratégia na instalação de unidades geradoras de Energia Elétrica. FAE. http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/art_cie/art_20.pdf
Porto, D. & Marques, D. P. (2016). Engenharia clínica: nova “ponte” para a bioética ?. Revista Bioética, Brasília, v. 24, n. 3, p. 515-527. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-80422016000300515&lng=en&nrm=iso.
Rodrigues, T. A. & Diniz, I. A.; Rodrigues, L. A. (2016). Manutenção preventiva com foco na redução de custos em unidades hospitalares: uma revisão integrativa da literatura. UFMG, v. 13 n. 2. https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/article/.
Rother, E. A. (2007). Revisão sistemática x revisão narrativa. Acta Paul Enferm, 20 (2). https://www.scielo.br/j/ape/a/z7zZ4Z4GwY (scielo.br).
SIEMBRA. (2017). Manutenção preventiva em equipamentos: qual a importância? Siembra Automação. https://www.siembra.com.br/noticias/ manutencao-preventiva-em-equipamentos.
Siqueira, I. P. (2005). Manutenção centrada na confiabilidade: manual de implementação. 1.ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 408 p.
Souza, J. B. (2008). Alinhamento das estratégias do planejamento e controle da manutenção (PCM) com as finalidades e função do planejamento e controle da produção (PCP): Uma abordagem Analítica. 169 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa.
Souza, S. S. & Lima, C. R. C. (2003). Manutenção Centrada em Confiabilidade como Ferramenta Estratégica. In: XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção, Ouro Preto – MG.
Souza, D. B., Milagre, S. T. & Soares, A. B. (2012). Avaliação econômica da implantação de um Serviço de Engenharia Clínica em hospital público brasileiro. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica. v. 28, n. 4, p. 327-36.
Sousa, A. S., Oliveira, G. S. & Alves, L. H. (2021). A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83.
Takahashi, Y., OSADA, T. (1993). Manutenção produtiva total. São Paulo: Instituto Iman. 322 p.
Terra, T. G., Guarienti, A., Simão, E. M. & Rodrigues Jr., L. F. (2014). Uma revisão dos avanços da engenharia clínica no Brasil. Disciplinarum Scientia. Série: Naturais e Tecnológicas, Santa Maria, v. 15, n. 1, p. 47-61.
Trojan, F., Marçal, R. F. M. & Baran, L. R. (2013). Classificação dos tipos de manutenção pelo método de análise multicritério electre tri. Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional: Natal – RN. http://www.din.uem.br/sbpo/sbpo2013/pdf/arq0338.pdf.
Xavier, J. N. (2003). Manutenção: tipos e tendências. http://www.engeman.com.br/site/ptb/artigostecnicos.asp/manutencaotiposetendencias.zip.
Wyrebski, J. (1997). Manutenção produtiva total: um modelo adaptado. Dissertação (M.sc) - UFSC, Florianópolis. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2022 Rogério Santiago Lopes; Luana de Araújo Nogueira Santiago

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.