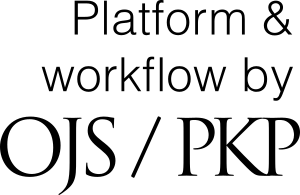Dialogicity as educational practice in the formation of discent
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.9177Keywords:
Teaching-learning, Educational practice, Dialogicity, Teacher education.Abstract
In this study, we discuss the possibilities of dialogicity as an epistemological political pedagogical element in order to think about the development of both critical and human senses. We understand that, by providing reflective moments, the teacher can broaden the perspectives of teaching and learning, making it possible for the subject to take hold of tools to reveal possibilities of acting in the world. Thus, we start from the following guiding question: What is the role of dialogicity as an epistemological political pedagogical element in teaching and in students’ learning? Also, from the secondary questions: How can we think of it as an educational practice for the development of critical sense and for human improvement? And how do students think of dialogicity in learning? This paper is the result of reflections arising from an activity we proposed with the topic Psychologizing: culture and its interfaces from photography, carried out in the following courses: Psychology, Human Resources, Marketing and Systems Development Analysis. We highlight that this study focuses on the experience that this activity provided to students, bringing the perceptions of the ones in the first semester of the Psychology course, in a private Higher Education institution located in Maracanaú town, in the state of Ceará, throughout the semester 2019.2. We understand that this activity allowed us to reflect on the teaching-learning process in order to realize its importance and perspectives, from the students' praxis and view, problematizing the dialogicity in educational practice and its contributions to the education of students.
References
Almeida, E. C. dos S. (2012). Ensino superior: representação social sobre prática educativa. Colóquio Internacional: Educação e Contemporaneidade, 6, São Cristóvão. (1-11).
Almeida, H. M. de. (2015). A didática no ensino superior: práticas e desafios. Estação Científica, Juiz de Fora, 14. (1-8).
Alves, R. Esquecer para saber. (2011). Folha de São Paulo: Cotidiano, São Paulo.
Anastasiou, L. das G. C. & Alves, L. P. (Orgs). (2005). Processos de ensinagem na Universidade. Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: Univelle.
Barroso, B. O. (2015). A constituição do sujeito de aprendizagem: uma experiência da aprendizagem situada no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá – CEDEP/DF. Tese (Doutorado Acadêmico em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade de Brasília. (281 f).
Bulgraen, V. C. O papel do professor e sua mediação nos processos de elaboração do conhecimento. (2010, ago./dez.). Revista Conteúdo, Capivari, 1(4). (30-38).
Cerqueira, B. M. & Kelly, K. N. (2006). Análise das representações sociais dos professores dos cursos de história e geografia da UEFS sobre prática educativa. Colóquio sobre formação de professores: Ressignificar a profissão docente, 2, Salvador, Bahia: PROFORME/PPGEDUC/UNEB.
Faria, L. R. A. de. (2018). As Orientações Educativas Contra-Hegemônicas em Face dos Questionamentos Pós-Modernos. E a Didática com isso? In Marin, A. J. & Pimenta, S. G. (Orgs.). Didática: Teoria e Pesquisa. Ceará: UECE. (67-80).
Flick, U. (2009). Introdução à pesquisa qualitativaArtmed.
Freire, P. (2006). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra.
Fontana, R. A. C. (2000). Mediação pedagógica na sala de aula. Autores Associados.
Libâneo, J. C. & Pimenta, S. G. (1999). Formação de profissionais da educação: visão crítica e perspectiva de mudança. Educação e Sociedade, 68. (239-277).
Libâneo, J. C. (1994a). O processo de ensino na escola. Cortez. (77-118).
Libâneo, J. C. (1994b). Os métodos de ensino. Cortez. (149-176).
Libâneo, J. C. (1994c). A avaliação escolar. Cortez. (195-220).
Malusá, S. & Feltran, R. C. F. (2003). A prática da docência universitária. Factash.
Minayo, M. C. de S. (2001). Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Vozes.
Ribeiro, M. L. & Soares, S. R. (2006). Análise das representações de prática educativa de docentes universitários formadores de professores: relatório de pesquisa. Feira de Santana: UEFS.
Rios, G. M.; Ghelli, K. G. M. & Silveira, L. M. (2016). Qualidades de um professor universitário: perfil e concepções de prática educativa. Ensino Em Revista, Uberlândia, 23 (1). (135-154).
Saviani, D. (2008). A pedagogia no Brasil: história e teoria. Autores Associados.
Severino, A. J. (2007). Teoria e Prática Cientifica. Metodologia do trabalho cientifico. Cortez.
Zabala, A. (1998). A prática educativa: como ensinar. ArtMed.
Zabalza, M. A. (2004). Os professores universitários: seu cenário e seus protagonistas. Artmed.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Jamila Hunára da Silva Santos; Ana Cristina de Moraes; Georgia Tath Lima de Oliveira

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
2) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
3) Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.