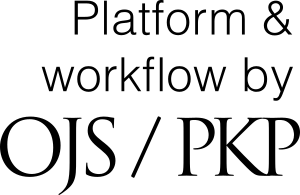A Educação Ambiental nos trabalhos do Encontro Nacional de Ensino de Química
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i17.24950Palavras-chave:
Educação ambiental, Revisão sistemática da literatura, Ensino de química.Resumo
O presente artigo buscou investigar e traçar um perfil de como a Educação Ambiental (EA) vem sendo abordada no ensino de química. Para tanto, foram analisados 64 trabalhos completos obtidos a partir da busca nos diretórios gratuitos que compõem os anais do Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) publicados em 5 (cinco) edições do evento no período de 2010 a 2018. A metodologia teve uma abordagem qualitativa e utilizou a análise documental com foco na Revisão Sistemática de Literatura (RSL). Para apreciação dos dados levantados foi aplicada a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Como resultado, foi constatado um crescimento na produção de trabalhos relacionados à EA ao longo dos anos que podem ter sido impulsionados pela exponencialidade nas formas e meios de divulgação e demonstram um panorama sobre a existência de diversas abordagens, metodologias e referenciais abordados nos diferentes níveis e segmentos da educação básica, Ensino Superior e comunidades. Como conclusão, percebe-se que a EA quando atrelada ao ensino de química ainda necessita de pesquisas e divulgação de práticas de ensino que abordem a Educação Ambiental em suas múltiplas dimensões.
Referências
Alentin, L. (2014). A dimensão política na formação continuada de professores em educação ambiental. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 31(2), 58-72.
Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Edições 70.
Bowers, A. W., & Creamer, E. G. (2021). A grounded theory systematic review of environmental education for secondary students in the United States. International Research in Geographical and Environmental Education, 30(3), 184-20.
Brasil MEC. (2012). CNE/CResolução 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.
Cleophas, M.G., & Francisco, W. (2018). Metacognição e o ensino e aprendizagem das ciências: uma revisão sistemática da literatura (RSL). Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, 14(29), 10-26.
Cruz, J., Rieger, A., & Bernad, T. (2017). A importância da continuidade de projetos de educação ambiental, realizados em escolas para a formação de cidadãos. Anais do Salão de Ensino e de Extensão, Universidade de Santa cruz do sul. <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/17042/0>
Dicio. (2020). Dicionário Online de Português. 7Graus.
Donato, H., & Donato, M. (2019). Stages for Undertaking a Systematic Review. Acta Médica Portuguesa, 32(3), 227-235.
Emery, F. S.; Santos, G. B.; & Bianchi, R. C. (2010). A química na natureza. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química. ENEQ’s Anteriores. Encontro nacional do ensino de química-ENEQ, 2018.
Franco, M. A. R. S. O. Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. Rev. Bras. Estud. Pedagog., 97(247), 534-551, 2016.
INEP (2004). Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira. Ministério da Educação. < http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/aumenta-numero-de-escolas-com-educacao-ambiental/21206>
Kato, D. S., & Kawasaki, C. S. (2011). As concepções de contextualização do ensino em documentos curriculares oficiais e de professores de ciências. Ciênc. educ., 17(1), 35-50.
Knechtel, M. R. (2001). Educação Ambiental: uma prática interdisciplinar. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 3, 125-139.
Layrargues, (coord.) (2004). Identidades da educação ambiental brasileira, Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 156 p.
Leff, E. (2011). Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Olhar de Professor, 14(2), 309-335.
Leff, E. (2007). Epistemologia Ambiental. (4a ed.), Cortez.
Vigorena, D. A. L., & Battisti, S. S. (2012). Procedimentos de coleta de dados em trabalhos de conclusão do curso de Secretariado Executivo da Unioeste/PR. Secretariado Executivo em Revista, 7(2), 1-15.
Luzzi, D. (2012). Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Manole.
Machado, G. I., & Brandão, J. B. (2017). Parcerias institucionais para promoção da prática cotidiana da Educação Ambiental em escolas. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 34(1), 72-91.
Marques, R., Raimundo, J. A., & Xavier, C. R. (2019). Filosofia na/da Educação Ambiental: a complexidade das produções do primeiro quindênio do século XXI. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 36(3), 24-42.
Mazzarino, J. M., & Rosa, D. C. (2013). Práticas Pedagógicas em Educação Ambiental: o necessário caminho da auto-formação. Ambiente & Educação, 18(2), p.121-144.
Megid-Neto, J. (1999). Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de ciências no nível fundamental. (Doutorado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.
Mendes Filho, A. (2016). Utilizando o Scratch para valorizar a autoria e autonomia discente em projetos pedagógicos interdisciplinares nos conteúdos dos parâmetros curriculares nacionais (PCNs). (Dissertação de Mestrado). Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação, Campinas.
Nóbrega, M. L. S., & Cleophas, M. G. (2016). A educação Ambiental como proposta de formação de professores reflexivos: das práticas contextualizadas à ambientalização no ensino de ciências. Inter-Ação, 41(3), 605-628.
Santos, J. G., & Rodrigues, C. (2018). Educação ambiental no ensino de Química: a “água” como tema gerador. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 35(2), 62-86.
Santos, M. C. (2014). A importância da produção de material didático na prática docente. VII Congresso brasileiro de Geógrafos, Vitória –ES. <http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404098564_ARQUIVO_AImportanciadaProducaodeMaterialDidaticonaPraticaDocente.pdf>
Schröder, L-M. U., Wals, A. E. J., & Koppen, C. S. A. (2000). Analysing the state of student participation in two Eco-Schools using Engeström’s Second Generation Activity Systems Model. Environmental Education Research, 26(88), 1088-1111.
Silva, E. L., & Marcondes, M. E. R. (2010). Visões De Contextualização De Professores De Química Na Elaboração De Seus Próprios Materiais Didáticos. Ens. Pesqui. Educ. Ciênc., 12(1), 101-118.
Sorrentino, M. (1997). "Vinte anos de Tbilisi, cinco da Rio 92: A Educação Ambiental no Brasil". Debates Socioambientais. CEDEC, ano II, nº 7, 3-5.
Sorrentino, M., Trajber, R., & Ferraro Júnior, L. A. (2005). Educação ambiental como política pública. Educ. Pesqui., 31(2), 285-299.
Tanaka, H. (2000). Environmental chemistry education for the 21st Century. Journal of the Indian Chemical Society, 77(11), 531-538.
Thomaz, C. E., & Camargo, D. M. (2007). Educação Ambiental no Ensino Superior: Múltiplos Olhares. REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 18, 303-318.
Tozzoni-Reis, M. F. C. (2001). Educação Ambiental: referências teóricas no ensino superior. Interface, 5(9), 33-50.
Tozzoni-Reis, M. F. C. (2009). Metodologia da Pesquisa. (2a ed.), IESDE Brasil S.A. 136 p.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Alessandra Ester de Souza; George Hideki Sakae; Maria das Graças Cleophas

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.