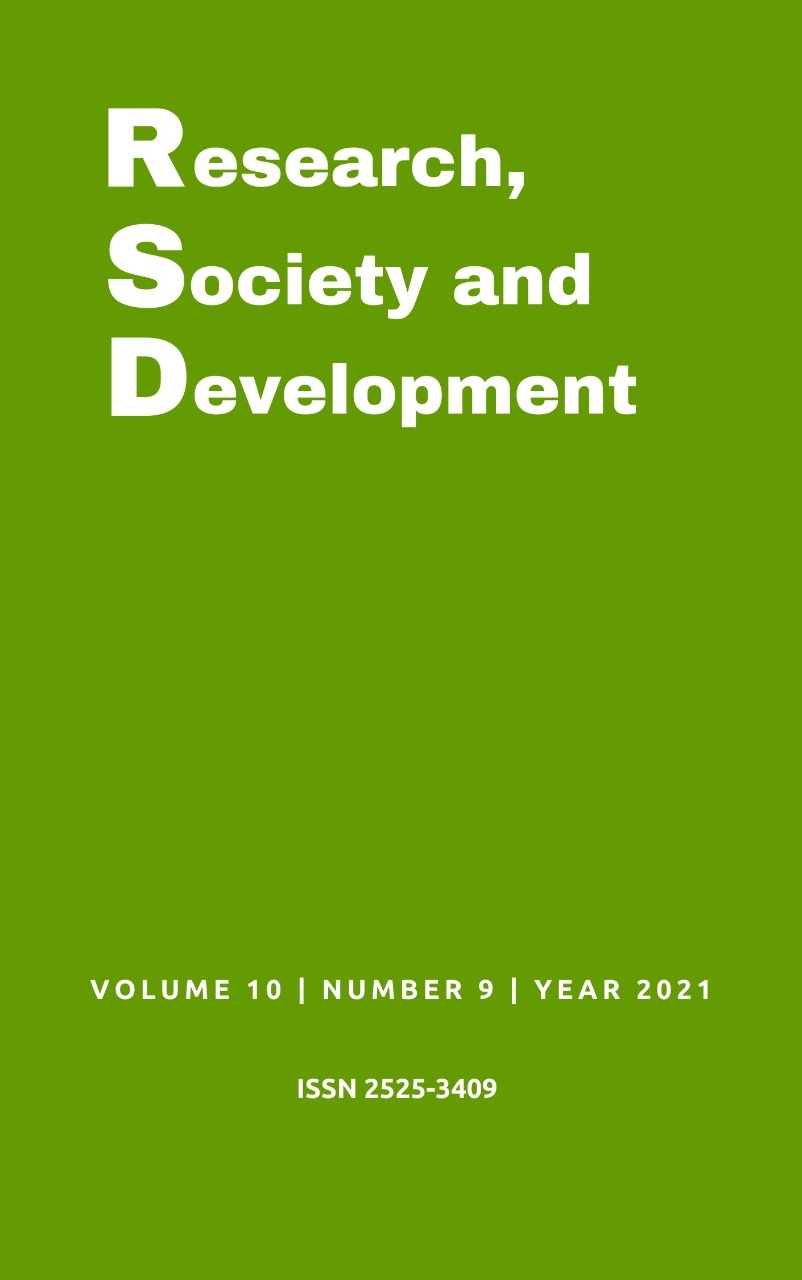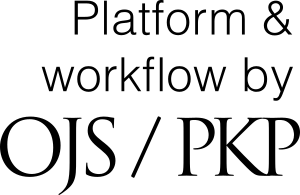Principais fatores relacionados ao risco cardiovascular de Populações Indígenas do Brasil
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i9.18254Palavras-chave:
Indígenas, Urbanização, Doenças cardiovasculares, Síndrome metabólica.Resumo
A população brasileira de indígenas vem passando por um processo de mudança no perfil de suas doenças mais prevalentes. As doenças infecto-parasitárias têm perdido o pódio para doenças crônicas não transmissíveis. Dentre elas, as doenças cardiovasculares são as de maior aumento na prevalência, o que aumenta riscos para eventos que possam comprometer a qualidade de vida e saúde destes grupos étnicos. Pouco se sabe sobre os riscos cardiovasculares que a população indígena brasileira apresenta, pois poucos estudos visam estes grupos. Logo, esta revisão objetivou rastrear os principais fatores reportados. De acordo com a literatura, a urbanização foi o fator desencadeador do aparecimento de doenças cardiovasculares, gerando sedentarismo e mudanças nos hábitos alimentares. Estes foram reportados como principais causas no aumento do número de indivíduos com obesidade, hipertensão e dislipidemias. Diabetes mellitus tipo 2 ainda é pouco frequente em indivíduos sem outras comorbidades, porém a prevalência aumenta em cinco vezes quando há alguma doença associada. Portanto, os grupos étnicos brasileiros necessitam de mais suporte educacional e de saúde para prevenir e tratar doenças crônicas não transmissíveis, e é necessária maior preocupação em acompanhar as incidências destas condições dentro de territórios indígenas.
Referências
Armstrong, A. C., et al. (2018) Urbanization is Associated with Increased Trends in Cardiovascular Mortality Among Indigenous Populations: the PAI Study. Arq Bras Cardiol. 110, 3, 240-245.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. (2011) Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicaspara o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília.
Bresan, N. D, et al. (2015) Epidemiology of high blood pressure among the Kaingang people on the Xapecó Indigenous Land in Santa Catarina State, Brazil, 2013. Cad. Saúde Pública, 31, 2, 1-14.
Calábria, B., et al. (2018) Absolute cardiovascular disease risk and lip-lowering therapy among aboriginal and torres strait inslander australians. MJA, 209, 1, p.35-41.
Capelli, J. C. S., & Koifman, S. (2001) Evaluation of the nutritional status of the Parkatêjê indigenous community in Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brazil. Cad. Saúde Pública, 17, 2, 433-437.
Cardoso, A. M., et al. (2001) Prevalence of risk factors for cardiovasculardisease in the Guaraní-Mbyá population of the State of Rio de Janeiro. Cad. Saúde Pública, 17, 2, 345-354.
Coimbra Jr, C. E. A., & Santos, R. V. (1991) Avaliação do estado nutricional num contexto de mudança sócio-econômica: o grupo indígena Suruí do estado de Rondônia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 7, 4, 538-562.
Coimbra Jr, C. E. A., & Santos, R. V. (2000) Saúde, minorias e desigualdade: algumas teias de inter-relações, com ênfase nos povos indígenas no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva, 5, 1, 125-132.
Favaro, T, et al. (2007) Segurança alimentar em famílias indígenas Terena, Mato Grosso do Sul, Brazil. CAD Saúde Pública, 23, 4, 785-793.
Gimeno, S. G. A, et al. (2007) Metabolic and anthropometric profile of Aruák Indians: Mehináku, Waurá and Yawalapití in the Upper Xingu, Central Brazil, 2000-2002. Cad. Saúde Pública, 23, 8, 1946-1954.
Grundy, S. M., et al. (1998) Primary prevention of coronary heart disease: guidance from Framingham:a statement for healthcare professionals from the AHA task force on risk reduction. Circulation, 97, 18, 1876-87.
Gugelmin, A S., & Santos, R. V. (2006) Uso do índice de massa corporal na avaliação do estado nutricional de adultos indígenas Xavante, terra indígena Sangradouro-Volta Grande, Mato Grosso, Brasil. Cad Saúde Pública, 22, 9, 1865-1872.
Leite, M S., et al. (2007) Gugelmin SA. Alimentação e nutrição dos povos indígenas no Brasil. In: Kac G, Sichieri R, Gigante DP, organizadores. Epidemiologia nutricional. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Editora Atheneu, 503-17
Mancilha-Carvalho, J. J., et al. (1991) Blood pressure in Yanomami villages. Arq Bras Cardiol, 56, 6, 477-82.
Mancilha-Carvalho, J. J., & Silva, N. A. S. (2003) The Yanomami Indians in the INTERSALT Study. Arq Brás Cardiol, 80, 3, 289-300.
Mazzuchetti L, et al. (2014) Incidência de síndromemetabólica e doenças associadas na população indígena Khisêdhê do Xingu, Brasil Central, noperíodo de 1999-2000 e 2010-2011. Cad Saúde Pública, 30, 11, 1-11.
Oliveira, G. F., et al. (2011) Prevalência de diabetes melito e tolerância à glicose diminuída nos indígenas da Aldeia Jaguapiru, Brasil. Ver Panam Salud Publica, 29, 5, 315-321.
Organização Panamericana de Saúde (2016) “Social determinants and risks for health, chronic noncommunicable diseases and mental health: cardiovascular diseases,” OPAS, Washington, DC, USA, http://www.paho.org
Ribas, D. L. B., et al. (2001) Nutrição e saúde infantil em uma comunidade indígena Terena, Mato Grosso do Sul, Brasil. Cad Saúde Pública, 17, 2, 323-331.
Rocha AKS, et al. (2011) Prevalência da síndrome metabólica em indígenas commais de 40 anos no Rio Grande do Sul, Brasil. Ver Panam Salu Publica, 29, 1, 41-45.
Salvo, A. V. L. M., et al. (2009) Metabolicandanthropometric profile of Suyá. Xingu Indigenous Park, Central Brazil. Rev Bras Epidemiol, 12, 3, 458-68.
Santos, K. M., et al. (2012) Degree of physical activity and metabolic syndrome: a cross-sectional study among the Khisêdjê group in the Xingu Indigenous Park, Brazil. Cad. Saúde Pública, 28, 12, 2327-2338.
Santos, R. V., & Coimbra Jr. C. E. A. (2003) Cenários e tendências da saúde e da epidemiologia dos povos indígenas do Brasil. In: Coimbra Jr. CEA, Santos RV, Escobar AL, organizadores. Epidemiologia e saúde dos povos indígenas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/ABRASCO, 13-47.
Sartori Jr, D., & Leivas, G. C. (2017) O direito à saúde dos povos indígenas e o paradigma do reconhecimento. Direito e Práxis revista, 8, 1, 86-117.
Schmidt, M. I., et al. (2011) Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet, 377, 1949-61.
Simão, A. F., et al; (2013) Sociedade Brasileira de Cardiologia. [I Brazilian Guidelines for cardiovascular prevention]. Arq Brás Cardiol, 101, 6, Suppl 2, 1-63.
Soares, L. , et al. (2018) Risco cardiovascular na população indígena xavante. Arq Brás Cardiol, 110, 6, 542-550.
Stoner, L., et al. (2012) Preventing a cardiovascular disease epidemic among indigenous populations through lifestyle changes. Int J Prev Med, 3, 4, 230-240.
Story, M., et al. (2003) Obesity in American-Indian children: prevalence, consequences and prevention. Prev Med, 37, 6, 3-12.
Tavares, E. F., et al. (2002) Relação da homocisteinemia com a sensibilidade à insulina e com fatores de risco cardiovascular em um grupo indígena brasileiro. Arq Brás Endocrinol Metab, 46, 3, 260-268.
Tavares, F. G., et al. (2012) Níveis tensionais de adultos indígenas Suruí, Rondônia, Brasil. Ciênc. Saúde Coletiva, 18, 1, 399-409.
Welch, J. R., et al. (2009) Nutrition transition, socioeconomic differentiation, and gender among adult Xavante Indians, Brazilian Amazon. Hum Ecol, 37, 13-26.
Wirsing, R. L. (1985) The health of traditional societies and the effects of acculturation. Curr Anthropol, 26, 303-22.
World Health Organization. (2017) “Fact sheets: the top 10 causes of death,” World Health Organization, Geneva, Switzerland, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Ilton Palmeira Silva; João Ricardhis Saturnino de Oliveira; Bianka Santana dos Santos; Caíque Silveira Martins da Fonseca; Vera Lúcia de Menezes Lima

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
1) Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2) Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3) Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado.